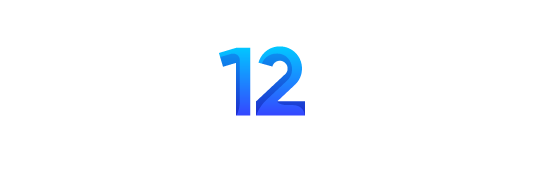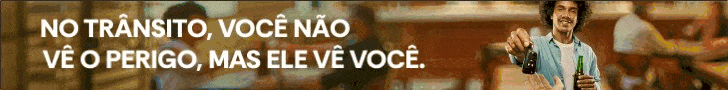O avião toca o solo e um anúncio preenche a cabine: “Bem-vindos ao Brasil.” A voz metálica ecoa pelos corredores, e, por um breve instante, me permito acreditar que essa recepção se estende a todos da mesma forma. Mas a experiência ensina a duvidar. O desembarque é sempre um ensaio da vida — alguns passam incólumes, outros são forçados a se justificar.
Na porta da aeronave, agentes da Polícia Federal fazem perguntas e analisam passaportes. “Uma operação aleatória”, justificam, como se a aleatoriedade tivesse um padrão bem definido. Não é na fila organizada de guichês, onde o fluxo da imigração é protocolar, mas ali, na soleira do avião, no primeiro contato com o Brasil. Percebo que esse tipo de abordagem só ocorre quando o voo parte do continente africano. Curioso. Nos voos vindos da Europa, nunca notei esse filtro antecipado.
Dessa vez, chego ao Brasil em um voo de Madri (30/1 – por volta das 15h). Nenhum agente da Polícia Federal na porta do avião. Um alívio? Talvez. Mas a esperança de um tratamento igualitário dura pouco. Mais à frente, a Receita Federal assume o papel de triagem racial. Fila única para os passageiros, malas imensas deslizando suavemente pelos corredores. Muitos passam sem um olhar sequer. Mas quando chega a minha vez, sou interrompido. Estou com uma pequena bolsa e uma mala de bordo. Não carrego volumes incompatíveis com uma viagem comum, não há pacotes suspeitos, sacolas extras ou caixas de eletrônicos. Ainda assim, sou chamado.
A abordagem é ríspida, direta, sem qualquer cordialidade. Ao redor, pessoas brancas cruzam a barreira sem que sequer se lhes dirija a palavra. Algumas carregam bagagens volumosas, outras puxam sacolas de grifes europeias. Mas a suspeição não as alcança. Pergunto o motivo da revista. A resposta já conhecida: “É aleatória.”
A aleatoriedade, curiosamente, recai sobre pessoas negras. O critério invisível que define quem deve ser submetido a uma inspeção rigorosa já está internalizado nas instituições. O racismo institucional se disfarça de protocolo, de operação rotineira, mas seus efeitos são concretos: pessoas negras sempre suspeitas, sempre obrigadas a provar inocência.
No Brasil, a fundada suspeita, princípio que exige indícios objetivos para uma abordagem, é ignorada quando o critério já está embutido na mentalidade dos agentes públicos. O aeroporto, espaço que simboliza trânsito, conexões e oportunidades, também funciona como um espelho das desigualdades do país. Ele separa aqueles que são bem-vindos dos que precisam se justificar. E essa linha de corte, embora não seja anunciada, é visível a quem ousa observá-la.
Diante de um cenário global em que discussões sobre imigração e xenofobia ocupam manchetes diárias, é urgente olhar para dentro. No Brasil, o passaporte e a passagem aérea não são suficientes para garantir respeito. Aqui, a cor da pele ainda define a forma como se cruza uma fronteira. Não adianta criticar os muros erguidos lá fora se, dentro de casa, a primeira impressão que se oferece a um cidadão negro é a da suspeição.
Respeito não pode ser privilégio. Ser bem recebido no próprio país não deveria ser uma exceção. É preciso que as instituições assumam a responsabilidade de romper com padrões racistas historicamente naturalizados. Só assim o Brasil deixará de ser um território onde a primeira saudação para pessoas negras é a desconfiança. E onde o cartão de visitas deixará de ser a violência.
Que a Polícia Federal (Ministério da Justiça) e a Receita Federal (Ministério da Fazenda) exerçam plenamente seus papéis dentro da esfera pública, garantindo justiça e equidade. Não há democracia onde o racismo persiste. Não existe Estado Democrático de Direito sem igualdade, especialmente quando alguns turistas e cidadãos são recebidos como reis, enquanto outros são tratados como marginais.